
Arnaldo, um dos líderes dos Paresi, na lavoura de soja em Campo Novo do Parecis (MT) (Foto: Mayke Toscano e José Medeiros) (Foto: BRUNO BLECHER - FOTOS: MAYKE TOSCANO E JOSÉ MEDEIROS, DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT))
·
Na manhã abafada e cinzenta do começo de novembro, Arnaldo Zunizakae, de
47 anos, acompanha o plantio dos últimos talhões de soja no território dos
Paresi, a 40 quilômetros de Campo Novo do Parecis, no norte de Mato Grosso.
Três plantadeiras puxadas por tratores de alta potência, conduzidos por jovens
indígenas, despejam as sementes no solo.
Branco, como Arnaldo é chamado pelos índios, lidera os trabalhos do
campo. “O que a gente quer é liberdade para produzir e progredir. Nasci numa
aldeia em Tangará da Serra, ainda pequeno fui trabalhar com o meu pai na
extração de borracha numa fazenda aqui perto de Campo Novo. Ajudava meu pai na
seringa, catava raízes e matava formiga. Até os 7 anos, não falava português.
Morava nessa aldeia (Bacaval) com meus avós. Eles me ensinaram as tradições e a
cultura paresi. Quando não tinha trabalho, vendia filhotes de papagaio nos
postos de gasolina à beira da estrada. Com o fim da borracha, os índios saíram
da aldeia, foram morar na cidade, em condições precárias”, conta ele.
Os Paresi estão em pé de guerra. Mas, em vez de flechas e tacapes, se
armaram de tratores, sementes, plantadeiras e colheitadeiras. Nesta safra, a
tribo semeou 10 mil hectares com soja. O plantio mecanizado na reserva,
demarcada na década de 1980, começou há 15 anos com arroz, em parceria com
fazendeiros da região.
A tribo enfrenta ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais (Ibama)e a oposição de algumas entidades indigenistas. O
órgão já aplicou 44 multas, que totalizam R$ 129,2 milhões, e embargou 16.200
hectares sob a acusação de os índios terem arrendado ilegalmente essas terras
na safra 2017. O Ibama constatou ainda o plantio de milho transgênico na
reserva, proibido por lei. Foram autuados 16 arrendatários, duas fazendas e
cinco associações indígenas. Branco admite o plantio de milho transgênico, mas
nega que os Paresi tenham arrendado as terras. Com a ajuda da Fundação Nacional
do Índio (Funai), a tribo tenta anular as multas.

A cacique Miriam, da Aldeia Bacaval, em Campo Novo do Parecis (MT)
(Foto: José Medeiros)
A novidade nesta safra é a autonomia: os Paresi criaram uma cooperativa
e pela primeira vez estão plantando a soja por conta própria. Parte da safra
foi financiada por dois produtores rurais da região. Eles forneceram os
insumos, sem qualquer garantia, para receber o pagamento na colheita. A expectativa
dos indígenas é colher cerca de 55 sacas por hectare. Do total do lucro, pelo
menos R$ 1,8 milhão serão distribuídos às 94 aldeias da reserva.
“Vamos investir esse dinheiro em projetos de educação, saúde e
infraestrutura. O restante irá para a cooperativa para ser aplicado em
maquinários, melhorias das sedes e compra de insumos para a próxima safra”,
planeja Branco.
Preservação
Depois de instruir os tratoristas, Branco pega a caminhonete para buscar
comida para a moçada na sede e dá carona para o fotógrafo Zé Medeiros e eu. Já
passa de uma da tarde e aproveitamos para almoçar – arroz, feijão, maxixe com
carne e costela de porco assada. Entre uma garfada e outra, o líder indígena
responde às minhas perguntas.
Você nasceu numa família tradicional, que segue as tradições dos Paresi,
por que resolveu plantar soja, um produto que nada tem a ver com a cultura
indígena? “É a necessidade que faz o sapo pular, né? Todo esse trabalho com a
soja tem um propósito: superar as dificuldades que o povo indígena passa. A
Funai nos deu a terra, garantiu a demarcação, mas a gente não tem condição de
sobreviver na aldeia. Moramos numa região de Cerrado, onde não tem caça nem
pesca suficiente para a gente sobreviver. Com a agricultura mecanizada, em
apenas duas safras, a gente eliminou a subnutrição na aldeia e reduziu a
mortalidade infantil.”
No caminho de volta à lavoura, Branco aponta no mapa da reserva as áreas
de plantio. “Abrimos 15.500 de 1,3 milhão de hectares, menos de 2% do total do
território. Não estamos devastando a natureza. O Cerrado é uma reserva
importante para nós. Daqui tiramos o pequi, a mangaba, o cajuzinho-do-cerrado,
as plantas medicinais, a palha para construir nossas casas, os peixes e a caça.
A áreas de lavoura estão distantes mais de 10 quilômetros dos rios e das
aldeias, para evitar a contaminação pelos agrotóxicos, ao contrário do que
acontece nas fazendas nesta região”, diz.
Antes de assumir a gestão da lavoura, Branco trabalhou alguns anos com
saúde indígena na aldeia. “Eu só atestava o grande número de subnutridos e a
alta taxa de mortalidade infantil. Não tem como resolver isso com remédios, mas
com trabalho. É o que vai dar comida, saúde e educação para os índios”, diz.
Para ele, a agricultura mecanizada pode tirar boa parte dos povos indígenas da
miséria, da humilhação e da dependência do governo.
“É a saída contra a discriminação, que tacha os índios de vagabundos e
preguiçosos. Não adianta o governo gastar milhões de reais com remédios para a
população indígena. O que não deixa o índio adoecer é comida, educação, uma
moradia digna, saneamento básico. Não dá para tratar o índio como um animal
dentro de um cercado. Temos de evitar que nosso povo se envolva com drogas,
bebidas e prostituição. Lógico que não se pode generalizar. Os Paresi têm condições
de ter autonomia, caminhar com as próprias pernas. Há tribos isoladas, que
moram nas florestas, com caça e pesca suficiente para alimentar toda a aldeia,
e ainda precisam de proteção”, ele diz.
O alarme do WhatsApp de Branco interrompe nossa conversa. Ele sorri ao
ler a mensagem do filho Cauê, de 12 anos, que mora com a mãe do seu segundo
casamento em Tangará da Serra (MT). Cauê avisa o pai que tirou 10 em todas as
matérias. Ele estuda num colégio particular e Branco banca a mensalidade. Cauê
manda sempre a prestação de contas pelo celular. “Quero que ele estude e não
fique como eu, que trabalha na roça de sol a sol”, diz.
Seu outro filho, Blairo, de 20 anos, está na lavoura, pilotando um dos
três tratores. Como o irmão, Blairo nasceu em Tangará da Serra. Aprendeu a
operar a máquina com o pai. “Desde os 14 anos, estou no campo. Parei de
estudar.” Casado, pai de duas filhas pequenas, Blairo diz que tem emprego
garantido na safra. Dá para tirar R$ 5 mil por 45 dias de trabalho. Depois do
plantio, ele vai revisar as máquinas, tirar uma folga de uma ou duas semanas e
voltar para o campo durante a colheita, quando seu trator entra para plantar a
safrinha de milho.
Você gosta de pescar e caçar? “Claro, a gente trabalha no campo, mas não
perde nossos costumes”, diz Blairo, ajeitando o boné sobre o cabelo tingido de
loiro.

Moacir, de 34 anos, aprendeu a operar máquinas agrícolas aos 16 (Foto:
José Medeiros/Editora Globo)
Moacir, de 34 anos, opera a outra plantadeira. Começou aos 16 e aprendeu
a mexer com trator “fuçando”. Até quatro anos atrás, trabalhava numa
fazenda da região. Ficou feliz por voltar à aldeia, onde é casado com uma
professora e tem dois meninos, de 8 e 13 anos. Seu colega Haustyb Inocêncio de
Souza, de 25 anos, que opera a terceira máquina, largou a escola no terceiro
ano e diz que aprendeu a operar o trator “de curioso”. Ele saiu muito pequeno
da aldeia, junto com a mãe, que se mudou para Aripuanã (MT), e, depois de
trabalhar um tempo em uma farmácia, retornou à Aldeia Bacaval.
Na aldeia, a cacique Miriam, mãe de Arnaldo, cozinha arroz na oca. É uma
das poucas casas tradicionais da aldeia, feita de madeira e coberta com palha
de guariroba. Apesar do forte calor do meio da tarde, a temperatura dentro da
oca é agradável. Miriam senta na rede para conversar conosco. “Não dá para
tratar o índio como uma coisa que tem de ser preservada. Fica aí naquele lugar.
Você é assim, tem de ficar assim. Parece que não quer que o índio desenvolva.
Eu vejo as nossas capacidades indígenas como a do não índio. Não dá mais para a
gente viver da caça, da pesca. Você mata uma ema lá embaixo, mas esse aqui de
cima já não pode comer. Nós somos muitos”, diz.
Aos 6 anos, Miriam foi levada da aldeia pelos jesuítas para ser
catequizada. No internato, ela aprendeu português, mas esqueceu a língua da
tribo. Voltou à Aldeia Formoso com 16 anos e seus pais lhe arranjaram um
casamento. Foi aí que voltou a falar a língua dos Paresi. Mãe de Branco, Miriam
é uma das principais lideranças da etnia. Lutou pela demarcação da reserva
indígena e pela criação da MT-235, estrada que permitiu o acesso da aldeia à
cidade e à escola. Ela conta que o plantio da soja foi feito em um lugar
escolhido.
“Um lugar que não prejudica nada. Nós temos o lugar da flauta sagrada,
ninguém mexe lá. Nós temos o lugar onde a gente pega a palha para fazer a oca,
ninguém mexe lá. A lavoura tem o lugar certo”, diz Miriam.
Quem decide é o índio
Pelo telefone, converso com o subprocurador-geral da República, Antonio
Bigonha, que coordena a 6a Câmara, responsável pelos indígenas e comunidades
tradicionais. O plantio de soja em terra indígena preocupa o Ministério
Público, segundo Antonio. “Há um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
que permite aos Paresi explorarem a terra e plantarem soja e milho. Mas, na
vigência desse TAC, o Ibama detectou a utilização de grãos geneticamente
modificados, o que é proibido em terra indígena. Houve uma autuação grande e eles
assumiram perante o Ibama e o Ministério Público Federal fazer uma
revisão no projeto para adequar as práticas ao que o Ibama autoriza”, diz. O
TAC é uma espécie de contrato entre um particular e o poder público.
Além do plantio de OGMs, as parcerias feitas com os produtores não
índios não agradam o MPF. “A expectativa do poder público é que os indígenas
possam explorar a terra por eles mesmos. Assim, ele poderiam diminuir a área
plantada e ficar dentro dos padrões ambientais. Mas o MPF respeita a autonomia
indígena. O índio tem direito de explorar a terra deles dentro dos padrões
ambientais. Isso é tudo o que a gente deseja. Eles só não podem ser instrumento
da produção do não índio e nem fugir aos padrões ambientais”, diz Antonio
Bigonha.

Haustyb Inocêncio, de 25 anos, operador de máquina agrícola (Foto: José
Medeiros/Editora Globo)
O subprocurador acredita que a autonomia nesta safra é um passo
importante. “Quem decide o que é bom para o índio é ele mesmo. É isso o que diz
a Constituição. Não é a Funai, não é o Ibama, não é o MPF. Não existe mais
tutela, tutela hoje é palavrão. Os índios têm autoestima. O desafio deles é
fazer isso de uma maneira indígena e não ser instrumento da nova fronteira
agrícola. Há uma sinceridade do discurso deles. Eles aprenderam a ser
agricultores, mas há risco das terras indígenas serem apropriadas pelas novas
fronteiras agrícolas, o que é procedente.”
Para Antonio, o discurso do novo governo e as declarações do presidente
Jair Bolsonaro sobre o índio revelam uma mentalidade integracionista, muito em
voga durante a ditadura.
“É como dizer que o índio só vai melhorar de vida quando embranquecer,
quando deixar de ser índio. O índio pode manter suas tradições e ser médico,
advogado, dentista ou plantar soja em Mato Grosso sem perder sua identidade
cultural”, diz o subprocurador da República.
Ivar Busatto, coordenador-geral da organização indigenista Operação
Amazônia Nativa (Opan), diz que, com o plantio de soja, os Paresi buscam uma
alternativa econômica, que pode não ser a melhor solução, embora seja a saída
que está ao seu alcance.
“É a economia que predomina em todo o planalto que os cerca. Mas, como
os próprios Paresi definiram em seu Plano de Gestão Territorial, que deve ser
publicado brevemente, outras iniciativas econômicas devem ser desenvolvidas,
como turismo, produção de gado, pequenos animais, criação de peixes, turismo,
agricultura tradicional, massa de beiju, farinha de mandioca e venda de frutas
do Cerrado”, afirma Ivar.
As tribos do café
Os indígenas de Rondônia conquistaram destaque nacional com a produção
de cafés robustas finos. A associação de tecnologia, tradição e
sustentabilidade trouxe da floresta novos aromas e sabores únicos da Amazônia.
“São cafés sem defeitos aparentes, exóticos, com doçura, acidez e
características marcantes de chocolate e castanhas, que lembram produtos
amazônicos como a bacaba, uma palmeira nativa dessa região”, diz o especialista
Janderson Dalazen. São esses sabores que o consumidor irá notar ao apreciar o
café do produtor indígena Valdir Aruá, de Alta Floresta d’Oeste (RO).

Valdir Aruá, segundo colocado no concurso de café em Rondônia (Foto:
Divulgação)
Valdir foi o segundo colocado no Concurso de Qualidade e
Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), realizado pela Emater-RO e
parceiros. Representando o povo Suruí, Luan Mopib Sumi conquistou o oitavo
lugar no Concafé e também representou o Estado nacionalmente. Assim como o
jovem indígena Vagner Tupari, que também teve seu café classificado como
especial nesse concurso.
Segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), os indígenas de Rondônia
são os únicos do país que cultivam o café comercialmente. Eles têm apoio da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A cafeicultura indígena
no Estado não é novidade. Os Suruí, do município de Cacoal, trabalham com café
há mais de 30 anos e os Aruá e os Tupari, da Terra Indígena Rio Branco, de Alta
Floresta d’Oeste, cultivam o café há mais de 15 anos. Renata Silva, da
Embrapa
Monocultura traz riscos, diz Cimi
Cléber Buzatto, secretário executivo do Cimi (Conselho Indigenista
Missionário), órgão vinculado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil), tem uma avaliação crítica sobre o plantio mecanizado em terra
indígena.
“A monocultura traz risco à saúde e ao ambiente, devido ao uso intensivo
de agrotóxicos. A mudança da ocupação da terra de forma brusca pode causar
problemas no futuro, como um movimento contra a demarcação da terra e até a
redução da área. Respeitamos a soberania dos Paresi em decidir seu futuro, mas
achamos que eles devem usar as terras de forma exclusiva, isto é, sem
arrendá-las.”
O secretário executivo do Cimi condena as declarações do presidente Jair
Bolsonaro sobre os indígenas e a transferência da Funai do Ministério da
Justiça para o Ministério dos Direitos Humanos.
O presidente disse que “os índios não devem viver em reservas demarcadas
como se fossem animais em zoológico” e afirmou que não vai demarcar nem um
centímetro de terras indígenas.
“Essas falas incentivam atos de desrespeito e violência, como já ocorre
em algumas terras de Rondônia. Bolsonaro disse que os povos querem se tornar
países independentes dentro do Brasil. A terra indígena pertence ao Estado,
como manda o Artigo 231 da Constituição brasileira. As declarações do
presidente alimentam um sentimento de rancor e preconceito contra o indígena”,
diz Cléber Buzatto.
Sobre a transferência da Funai para o Ministério de Direitos Humanos,
Cléber afirma que o governo não consultou, não ouviu e não atendeu os povos
indígenas. “Há uma total falta de diálogo e de respeito. Os indígenas não foram
consultados.”
G1 Globo Rural
 (94)99105 2029
(94)99105 2029
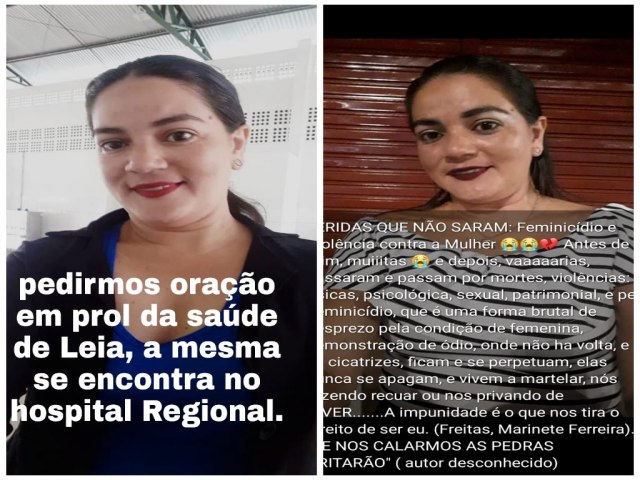




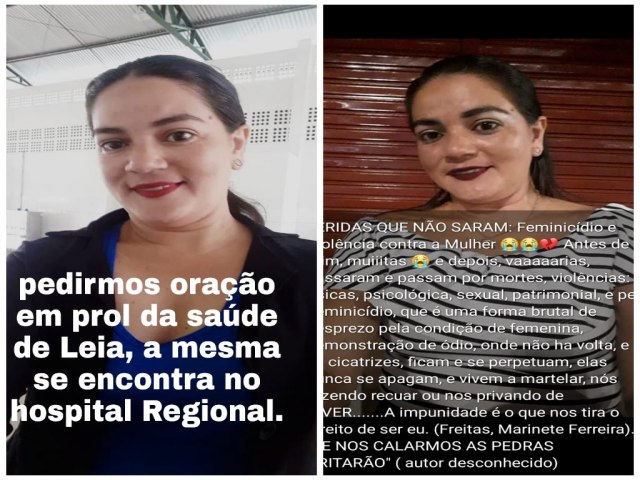






 Visitas: 3044472
Visitas: 3044472 Usuários Online: 1594
Usuários Online: 1594 Visitas: 3044472
Visitas: 3044472 Usuários Online: 1594
Usuários Online: 1594

























